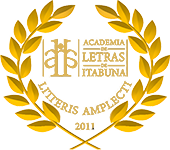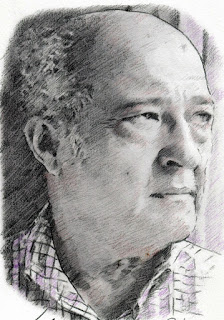Em 18/09/2025
Recebi pelo WhatsApp um convite incomum: a comemoração dos cinquenta anos do Ilê Axé Ijexá, uma comunidade religiosa de tradição afro-brasileira em Itabuna. O remetente — adivinhei logo — tinha a mão de meu querido amigo e confrade Ruy Póvoas, babalorixá, colega de antigas como servidor da UESC e hoje companheiro da Academia de Letras de Itabuna ALITA. O traje? Branco. Claudinha, previdente, já tinha. Eu, não.
A calça encontrei depressa, num clique. A camisa de linho, mangas compridas, surgiu na internet também, mas vinda de longe — chegaria quando o evento já tivesse transcorrido. Restou a solução tradicional: ir ao centro da cidade em busca do branco exigido. Fizemos isso, compramos camisa e tênis, e aguardamos o dia.
Era sexta-feira, 5 de setembro de 2025, quando seguimos, fim de tarde, de Ferradas até a Rua Getúlio Vargas, 642, no Bairro Santa Inês. Escolhemos o caminho pelo centro — errada a escolha. O trânsito travado retardou o passo, coisa que não teria acontecido se tivéssemos ido pelo semianel rodoviário. Já perto do terreiro, dezenas de carros estacionados denunciavam que a festa seria grande.
Na entrada, dois rapazes recepcionavam: um de branco, outro em roupa comum. Lá dentro, rostos conhecidos acenavam, muitos com aquela alegria simples de reencontro. Preparava-se uma procissão. Depois dela, a concentração no pátio interno e, em seguida, todos ao salão do culto. Gente, em cadeiras de plástico, bancos de madeira ou no chão, aguardava. No palco, três músicos ajeitavam seus instrumentos. Ao lado, um altar discreto esperava a presença maior.
De repente, o batuque começou. O canto coletivo se elevou. Entrou o babalorixá. Silêncio.
Fez-se então um mergulho na memória: lembrou que, em 1975, pedras foram fincadas para erguer o Ilê. Ali não se cultuava apenas o sagrado, mas também a memória de Mejigã, africana escravizada no engenho de Santana, em Ilhéus colonial, e cuja força ancestral se prolongava na casa.
O discurso, sereno e firme, falava de paz, de natureza, de comunidade, de respeito aos mais velhos, de combate ao racismo e à intolerância. O Ilê Axé Ijexá, disse, era um “museu vivo”: um espaço onde memória e tradição se revelam não apenas na arquitetura, mas na dança, na comida, no gesto, no canto.
E havia verdade nisso. A cada oração, a cada cântico, percebia-se que o terreiro não era só um lugar de fé, mas também de política, de ética, de resistência cultural. Recebe pesquisadores do mundo inteiro, abre-se para quem busca cura nos modos afro-brasileiros, e se afirmar como território da vida.
Cantavam-se orikis, aduras, orin, malembes — palavras que, mesmo sem tradução imediata, soavam como música antiga, mais velha que as paredes do salão. Dançava-se não apenas com o corpo, mas com a alma.
E, no fim, a lição: é preciso acreditar.
Na divindade que mora no humano.
Na educação como força de mudança.
No respeito aos mais velhos, no valor do abraço, na fraternidade entre os homens.
E sobretudo — na celebração da vida.
Saímos tarde. O branco da minha roupa já não era o mesmo da vitrine: tinha agora o peso de cantos, de rezas, de suor e de axé. Claudinha me olhou como quem pergunta se valeu a pena. Eu não respondi. Sorri apenas.
Porque certas noites não se explicam. Guardam-se.